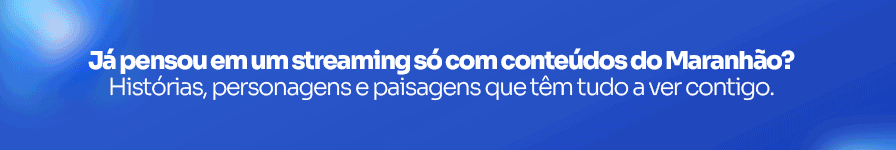Catorze minutos é o tempo que Maria de Fátima consegue falar sem reter as palavras na garganta. Aos 41 anos, ela inicia um choro silencioso ao lembrar que foi vítima de racismo na festa de aniversário do marido, o empresário alemão Matthias Gösch. O churrasco, realizado em um clube de campo de Rio Claro, no interior, deveria deixar boas recordações. Mas, não. Das lembranças que mantém, a mais forte é a frase que ouviu de um dos participantes, para quem ser negra era motivo de crime. “Pessoas como você a gente coloca bem na linha de tiro.”
Um balanço inédito da Secretaria da Segurança Pública (SSP), obtido pelo [BOLD]Estado[/BOLD], aponta que as delegacias de São Paulo registraram, em média, um crime de intolerância a cada 69 minutos no último ano. Os dados foram reunidos desde novembro de 2015, quando passou a ser obrigatório notificar se a ocorrência envolvia algum tipo de discriminação.
Foram ao menos 7.587 crimes de ódio até o mês passado. Do total, 3.216, ou 42,4%, eram de intolerância racial. Em seguida: homofobia (15,5%), intolerância de origem (12,7%) e religiosa (6,3%). Em todos os grupos, os delitos mais cometidos são injúria e ameaça. “As principais vítimas são negros. Depois, o grupo LGBT e os nordestinos”, diz a delegada Daniela Branco, titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) de São Paulo.
Nascida no Ceará, Maria de Fátima Gösch é empresária e mora na capital paulista. <IP9,0,0>“Eu nunca pensei que fosse passar por isso”, diz. Segundo conta, frequentava o clube porque o marido praticava tiro esportivo. A festa aconteceu em fevereiro. Em meio às comemorações, notou que um sócio a olhava diferente. Perguntou, então, se estava tudo bem. “Ele começou a me agredir do nada, disse que não gostava de negro.”
O casal entrou com uma representação no clube e fez boletim de ocorrência. Apenas um convidado concordou em testemunhar a favor de Maria – e teria sofrido ameaças. Outras pessoas disseram, em depoimento, que ela tem “costume de contato corpo a corpo com homens” e “procurava manter-se rodeada”. “Foi um linchamento moral”, diz a vítima. “São pessoas assim que deixam, não só o Brasil, mas o mundo atrasado.” Procurado, o clube não respondeu.
Racismo Institucional. A advogada Eliane Dias, coordenadora da SOS Racismo, da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), diz que muitas vítimas não denunciam o preconceito por temer retaliações. “Às vezes, o racista é o chefe e a vítima não quer perder o emprego. O dado real é muito maior”, diz. “Se a gente for pensar a fundo, a violência quando o negro tem um emprego negado, é perseguido na faculdade ou recebe um xingamento é a mesma. O racismo institucional é agressivo.”
A estudante de Direito Maria das Neves, de 29 anos, nunca registrou uma ocorrência, mas diz ter sofrido preconceito várias vezes. “Imagina você sendo advogada com esse cabelo”, ouviu a jovem, que usava tranças nagô até pouco tempo. As ofensas nem sempre vêm de estranhos. Neste ano, ela conversava com amigos, quando um deles comentou que ela “poderia ser qualquer coisa”, já que também sabia cantar e atuar. “Inclusive, macaca de auditório”, comentou uma amiga. “Antes de tudo, precisamos que as pessoas tenham orgulho de ser negras.”
Para a pesquisadora Natália Neris, do Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas para a Inclusão Social da Universidade de São Paulo (USP), os dados ajudam a identificar crimes e autores. “Eles contradizem a ideia de que no Brasil não há racismo.”
Uma de suas pesquisas analisa decisões de segunda instância em tribunais brasileiros, entre eles o de São Paulo. Segundo afirma, muitas vezes um crime de racismo, mais grave, se torna uma “simples injúria”. “Para a Justiça, ‘negro safado’ é a mesma coisa de ‘gordo safado’. O contexto é esvaziado.”
Homofobia. São Paulo registrou uma média de 98 crimes de homofobia a cada mês, segundo os dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ao todo, foram 1.179 casos notificados entre novembro de 2015 e outubro deste ano – a maioria (62,7%) de injúria ou ameaça.
Em julho, a drag queen Dindry Buck participou de um evento na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na zona leste da capital. Ela foi bem recebida pelos presentes, mas, quando a notícia chegou à internet, vieram as ameaças. “As pessoas diziam que eu ‘merecia levar uma surra’”, conta. Assustada, ela reuniu os relatos e foi à polícia.
Não foi a primeira vez que Dindry Buck sofreu violência. Anos atrás, ela já havia sido surpreendida por um agressor no centro de São Paulo. Ele lhe desferiu um soco na boca e a derrubou no chão. “Veado tem de apanhar”, disse o criminoso.
Com 191 casos, a lesão corporal representa o terceiro crime mais cometido contra o grupo LGBT. Em fevereiro, a transexual Melissa Hudson, de 22 anos, recebeu garrafadas e pontapés na Rua Augusta, no centro. “Até hoje não entendi direito o que aconteceu. Eu queria saber o que fiz a essas pessoas.”
Segundo conta, foi cercada pelo grupo de madrugada. “Fui parar no chão. Eles gritavam que eu era um ‘traveco nojento’”, relata Melissa. À época, ela havia acabado de passar por uma cirurgia no rosto. Por causa das agressões, precisou refazer alguns pontos que arrebentaram. “Eu só queria Justiça.”
Melissa mudou de casa depois do episódio. “Hoje ando com medo na rua. Saio e não sei se vou voltar”, afirma. “Por mais que você seja uma pessoa comum, ser transexual é ter uma vida de risco.”
Na opinião da advogada Sylvia Amaral, a homofobia “se sustenta em erro”. “O homossexual é visto como se tivesse escolhido um caminho e, por isso, precisa aguentar as consequências”, diz. Para Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, é necessário uma lei para esse tipo de intolerância. “Não há aumento de pena para o crime.”
A delegada Daniela Branco, da Decradi, diz ser preciso cautela para analisar cada caso. “Existe preconceito, mas nem todo homossexual foi morto por homofobia.” Segundo afirma, o último registro de homicídio, aparentemente por intolerância, foi em 2009. “Às vezes, o caso causa um alarde que não condiz com a realidade.”
Daniela também destaca que crime de intolerância é difícil de prevenir. “Talvez o melhor método é não deixar passar. Ir na delegacia e fazer o registro, para que a pessoa seja identificada e punida.”